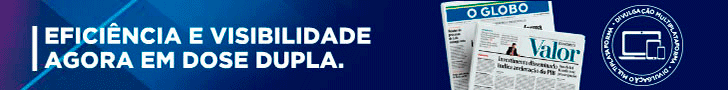Acesso direto aos capítulos
| Diversidade | Economia Azul | Educação Financeira | Enfoque |
| Espaço Apimec Brasil | Gestão | Governança | IBGC Comunica |
| IBRI Notícias | Liderança | Opinião | Orquestra Societária |
| Sustentabilidade | Voz do Mercado |
Orquestra Societária
ECONOMIA DE STAKEHOLDERS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA por Cida Hess e Mônica Brandão
O artigo da edição RI-288 (Fev.2025): “Da governança à sinfonia de resultados sustentáveis” concluiu o projeto ESG: Uma partitura que está sendo escrita, no qual representamos a Orquestra Societária no âmbito de um amplo ecossistema que abrange a economia de stakeholders. Por que preferimos empregar a expressão economia de stakeholders, ao invés da expressão capitalismo de stakeholders na revisão da Orquestra Societária apresentada na citada edição?
Para responder ao possível questionamento dos leitores atentos da coluna Orquestra Societária, abordamos três questões: 1) a jornada do sistema capitalista ao longo da História; 2) o capitalismo no Brasil e suas bases na Constituição Federal; e, 3) motivos para a escolha da expressão economia de stakeholdersna revisão da Orquestra Societária, objeto da edição 288.
1 – SOBRE A JORNADA DO CAPITALISMO
Discorremos aqui breve e resumidamente sobre a evolução do sistema capitalista ou capitalismo, sem deixar de reconhecer a vastidão do tema e que, certamente, não conseguiremos cobrir toda a sua complexidade. Tal evolução é caracterizada por diversas fases que refletem transformações econômicas, sociais e políticas.
Na transição do feudalismo para o capitalismo, no final da Idade Média, a propriedade privada dos meios de produção começou a se consolidar, com a organização do trabalho ainda fortemente ligada às estruturas feudais.
O comércio expandiu-se progressivamente, levando ao desenvolvimento do que se convencionou chamar de capitalismo comercial, relacionado aos séculos XVI e XVII, período em que nações europeias adotaram práticas mercantilistas e buscaram a acumulação de riquezas por meio do controle do comércio e da exploração colonial. Tal processo intensificou a globalização econômica, com a consolidação de redes comerciais intercontinentais. Destaca-se que práticas comerciais já existiam há séculos na China, especialmente durante a dinastia Song (960-1279), que desenvolveu uma economia mercantil dinâmica, ainda que sob um modelo distinto do europeu.
A Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX transformou radicalmente os sistemas produtivos, impulsionando o capitalismo industrial. A mecanização das fábricas, a produção em larga escala e a ascensão de uma classe trabalhadora assalariada consolidaram o modelo econômico capitalista, que passou a depender fortemente da inovação tecnológica e da expansão do setor industrial. Não por acaso, emergem justas reivindicações trabalhistas.
No final do século XIX, com o crescimento dos mercados financeiros e a ascensão de grandes conglomerados econômicos, um capitalismo financeiro emergente em tempos anteriores foi intensificado e se tornou muito importante. A influência do setor bancário e dos mercados de capitais aumentou significativamente, interligando economias nacionais e intensificando a circulação global do capital.
Com a chegada da era digital e a intensificação da globalização, o sistema capitalista passou a adotar novas dinâmicas produtivas. O capitalismo pós-fordista, que emergiu no final do século XX, caracterizou-se pela flexibilização da produção e do trabalho, pela forte presença do setor de serviços e pelo avanço da economia do conhecimento. Empresas adotaram novas formas de organização, incorporando tecnologias de automação e promovendo a descentralização da produção. Essas tecnologias, como não poderia deixar de ser, turbinaram o capitalismo financeiro.
Nessa jornada, os impactos ambientais e sociais das atividades econômicas passaram a ser debatidos com mais intensidade, levando ao surgimento da ideia de capitalismo de stakeholders. Esse modelo, cujo ponto de partida, a nosso ver, pode corresponder à publicação do Relatório Brundtland pela ONU (1987), propõe que as empresas não devem focar exclusivamente o lucro dos sócios, mas atentar aos interesses de todos os envolvidos, incluindo empregados, clientes, fornecedores, comunidades locais e gerações futuras, entre outros públicos relevantes.
A história prossegue sua marcha e, no século XXI, emerge o conceito de capitalismo de vigilância, proposto por Shoshana Zuboff, professora emérita da Harvard Business School, em seu livro The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019). Zuboff argumenta que as empresas de tecnologia não apenas coletam dados pessoais dos usuários, mas também os transformam em commodities para fins lucrativos, alterando a natureza do capitalismo.
É importante frisar que a jornada antes descrita pode ser vista de distintas formas. O economista Anatole Kaletsky, no livro Capitalismo 4.0 - The birth of a new economy in the aftermatha of crisis (2010), identifica quatro grandes fases do sistema capitalista: 1) Capitalismo 1.0 (1776-1930) – com ampla liberdade econômica; 2) Capitalismo 2.0 (1930-1970) – keynesianista e com visão social; 3) Capitalismo 3.0 (era Ronald Reagan-Margareth Thatcher) – culminou na globalização financeira e na recessão de 2009-2010; e 4) Capitalismo 4.0 - uma visão aberta que reúne elementos do liberalismo e do keynesianismo.
Independentemente da forma de visualizar a jornada, bem como da adequação e exatidão dos marcos históricos, o sistema capitalista tem se mostrado dinâmico e adaptável e, ao mesmo tempo, criador e impulsionador de mudanças em variadas frentes. E suas fases, presentes no capitalismo contemporâneo, por esse motivo, podem ser tratadas como faces de um sistema complexo e em evolução.
Assim, o capitalismo contemporâneo é, a um só tempo, um sistema comercial, industrial, de conhecimento, de stakeholders, de vigilância e muito mais, conforme os cientistas e estudiosos queiram qualificá-lo, com base em suas pesquisas. Ao mesmo tempo, o ordenamento jurídico de um País pode privilegiar algumas dessas faces, conforme demonstramos a seguir, com o exemplo do Brasil.
2 – SOBRE O CAPITALISMO EM NOSSO PAÍS
Tratemos do capitalismo no Brasil, tal como a nossa Constituição o estabelece, segundo a vontade do Legislador Constitucional. Nesse sentido, observamos que a Carta Magna, após o seu belo Preâmbulo, é dividida em Títulos, Capítulos e artigos, representando-se no quadro a seguir seus nove Títulos.
TÍTULOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(promulgada em 1988)
| I | Dos princípios fundamentais |
| II | Dos direitos e garantias fundamentais |
| III | Da organização do Estado |
| IV | Da organização dos Poderes |
| V | Da defesa do Estado e das instituições democráticas |
| VI | Da tributação e do orçamento |
| VII | Da ordem econômica e financeira |
| VIII | Da ordem social |
| IX | Das disposições constitucionais gerais |
Nota - Após esses Títulos, a Carta Magna apresenta suas Disposições Constitucionais Transitórias.
Note-se que cada um dos Títulos em questão fala, per se, sobre os grandes objetivos da Constituição, que estabelece os princípios fundamentais da República, os direitos dos cidadãos, a organização do Estado e dos Poderes Constituídos e muito mais, além de embasar todo o conjunto de princípios e regras infraconstitucionais do Brasil, entre leis, decretos, regulamentos e muitas outras peças formais.
Na relação de Títulos do quadro em questão, o Título VII (artigos 170 a 192, exceto 171, revogado) é o nosso foco, por estabelecer grandes princípios do sistema econômico nacional. E focalizamos mais detidamente, no âmbito do Título VII, o artigo 170, o qual estabelece:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
Note-se que o artigo 170 estabelece como princípios, por um lado (negritos), o direito à propriedade privada (inciso II), a livre concorrência (IV) e ampla liberdade econômica (parágrafo único, com exceções previstas em lei).
Por outro lado, o mesmo artigo 170 estabelece os princípios da soberania nacional (I), função social da propriedade (III), defesa do consumidor (V), defesa do meio ambiente (VI), redução das desigualdades regionais e sociais (VII), busca do pleno emprego (VIII) e do tratamento favorecido a empresas de pequeno porte (IX).
Qual é a face do capitalismo nacional que emerge, de pronto, do artigo 170? A nosso ver, a face dos stakeholders, já que o artigo 170 contempla um amplo conjunto de públicos relevantes para a governança do nosso País, titulares de direitos expressos nos princípios econômicos estabelecidos por esse artigo.
O artigo 170 estabelece os princípios de um sistema econômico capitalista que, ao lado da propriedade privada, do livre mercado e da liberdade econômica, preocupa-se com a soberania do Brasil, a dignidade humana, o bem-estar social, os consumidores, os trabalhadores e as pequenas empresas.
Nos termos do artigo 170 da Constituição Federal do Brasil, o modelo de livre mercado vigente em nosso País deve ser implementado de forma equilibrada, socialmente justa e sustentável. Esta foi a vontade do Legislador Constitucional, que explicitou na Carta Magna uma economia de mercado com a busca de justiça social e da sustentabilidade. Tendo sido promulgado em 1988, o texto constitucional está impregnado de ética e sintonia com a evolução da sociedade.
É importante dizer que há outros artigos no texto constitucional relacionados aos princípios enunciados pelo artigo 170. Não poderíamos deixar de aqui reproduzir o artigo 1º da Carta Magna que, bem antes do 170, define os fundamentos da República:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
E não poderíamos deixar de mencionar o artigo 225 da Constituição que, em seu caput relacionado ao meio ambiente, reconhece um relevante stakeholder, as gerações futuras:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]
O capitalismo de stakeholders presente na Carta Magna deleta outras faces importantes do sistema capitalista nacional? Não, de nenhuma forma. Exemplifiquemos com a face financeira do sistema econômico nacional. Nesse sentido, assim dispõe o artigo 192 da Carta Magna relativamente ao sistema financeiro:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
Note-se, mesmo no texto do artigo 192, a preocupação de um stakeholder muito importante: a coletividade.
E quanto às faces comercial, industrial, de conhecimento e de vigilância do capitalismo, antes mencionadas? Para cada uma dessas faces, é totalmente possível identificar fundamentos no texto constitucional a eles associados. Neste artigo, não nos aprofundamos nessas conexões.
Mesmo assim, entendemos que o próprio artigo 170, nos incisos da livre concorrência (IV) e da defesa do consumidor (V), contempla diretrizes relacionadas às faces comercial e industrial do capitalismo. Ademais, a dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º (III) da Carta Magna, está relacionada ao capitalismo de vigilância, já que as informações dos cidadãos requerem cuidados, previstos na legislação nacional sobre a proteção de dados.
3 – SOBRE O CONCEITO DE ECONOMIA DE STAKEHOLDERS
À luz das considerações anteriores, e retornando ao questionamento, inicialmente exposto, por que mesmo escolhemos a face dos stakeholders para a revisão da Orquestra Societária na edição 288 desta Revista RI? Por que expressamos, no ecossistema no qual se insere a Orquestra, a expressão economia de stakeholders?
Por vários motivos, indo além do fato de que os stakeholders sempre estiveram presentes nas entrevistas das 13 conselheiras para o Projeto ESG: Uma partitura que está sendo escrita. Primeiramente, a visão dos stakeholders é aquela mais adequada a uma organização-orquestra, que tem uma audiência (esses públicos relevantes ou estratégicos), um maestro, várias dimensões a coordenar, por meio de um modelo de gestão sustentável, e uma sinfonia de resultados a alcançar. Independentemente da beleza da metáfora da orquestra, esta contém uma mensagem poderosa: resultados precisam ser orquestrados.
Em segundo lugar, e como procuramos mostrar no item 2, a visão dos stakeholders corresponde à face mais evidente do sistema econômico do nosso País, à luz da Constituição Federal, como evidencia o artigo 170, que abre o Título VII da Carta Magna – Da ordem econômica e financeira.
Em terceiro lugar, o termo economia é muito mais abrangente do que o termo capitalismo, pois economias, em tese, podem ser capitalistas ou não, sendo que mesmo as economias capitalistas podem ser substancialmente distintas entre si.
E em quarto e último lugar, a expressão economia de stakeholders é genérica e usá-la na revisão da Orquestra Societária, constructo que também consideramos genérico, como explicamos no artigo da edição 288, é tecnicamente correto e didaticamente adequado.
Finalizamos este artigo reforçando a importância do questionamento à revisão da Orquestra Societária, acreditando ter cumprido seus três objetivos iniciais. E lembramos a todos de que os Títulos VI e VII da Constituição Federal são o embasamento constitucional de todos os envolvidos profissionalmente com Economia e Finanças, sem prejuízo às demais disposições da Carta Magna.
Cida Hess
é Assessora da Presidência da Prodesp para Negócios Estratégicos. Sócia fundadora da Orquestra Societária Business. Palestrante e mentora. Doutora em Engenharia de Produção, com foco em Sustentabilidade, pela UNIP/SP, mestre em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUCSP, economista e contadora, com MBA em finanças pelo IBMEC. Conselheira fiscal e coordenadora do Comitê Econômico e Auditoria (CEA) da FNQ. Conselheira Consultiva. Professora de Finanças para Conselhos da Board Academy e do Legado e Família. Head do Comitê de Inovação e Tecnologia do 30% Club Brazil e Embaixadora da Board Academy. Colunista da Revista RI desde 2014 e do Portal Acionista desde 2019. Conselheira editorial da RI desde 2023. Coautora dos livros ESG: A Orquestra da Longevidade Corporativa (Editora Elite, 2024), Orquestra Societária – a Origem (Editora Sucesso, 2018) e Inovação na Gestão Pública (Editora Saint Paul, 2012).
cidahessparanhos@gmail.com
Mônica Brandão
é Assessora da André Mansur Advogados Associados. Tem atuado como executiva financeira, conselheira de administração, fiscal e consultiva, engenheira de planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica e professora universitária. Mestre em Administração, graduada em Engenheira Elétrica e bacharel em Direito. Certificada como CNPI-P pela APIMEC Nacional, com pós-graduação e especialização na UFMG e no IBMEC, respectivamente, bem como treinamentos internacionais e nacionais, especialmente em Finanças Corporativas, Gestão da Estratégia e Governança Corporativa. Colunista da Revista RI desde 2008 e do portal Acionista desde 2019, integrando o Conselho Editorial da RI desde 2023. Coautora dos livros Do Rascunho ao Livro (Editora Sucesso, 2019), Orquestra Societária – a Origem (Editora Sucesso, 2018), e Visões da Governança Corporativa (Editora Saraiva, 2010).
mbran2015@gmail.com
Continua...


 Nº 297 • DEZ 25
Nº 297 • DEZ 25 Nº 296 • NOV 25
Nº 296 • NOV 25 Nº 295 • OUT 25
Nº 295 • OUT 25 Nº 294 • SET 25
Nº 294 • SET 25