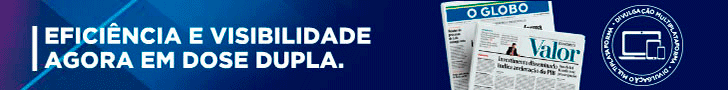Acesso direto aos capítulos
Espaço Apimec Brasil
COMO A NOVA GOVERNANÇA NORTE-AMERICANA ALTERA O HORIZONTE BRASILEIRO por Francisco Petros
“A cultura é o lugar onde o espírito se torna visível.” – Susan Sontag
A cultura corporativa, mutante e por vezes esquiva, é menos o resultado de códigos formais e mais a emanação viva do “espírito do tempo” (Zeitgeist) de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Essa visão adquire molde institucional também na governança das empresas. Os EUA são o epicentro de onde irradia, há décadas, o modelo hegemônico de governança empresarial.
No entanto, algo mudou — ou melhor, está em mutação. Desde a ascensão de Donald Trump ao segundo mandato, e sobretudo no ambiente de sua reemergência política, o ethos empresarial norte-americano foi submetido a uma tensão cujos reflexos extravasam as fronteiras institucionais e reconfiguram, rapidamente, o paradigma de governança corporativa. Não se trata apenas da política de um homem — mas de um sismo cultural e ideológico que atingiu o coração do modelo de capitalismo liberal, promovendo uma inflexão no eixo moral e estratégico das grandes corporações.
Ao contrário do que muitos previram, Trump não foi uma “disfunção momentânea”, mas o catalisador de um realinhamento estrutural alimentado pela desigualdade social e das “novas” identidades e formas de comunicação. Seu discurso avesso ao globalismo, seu ataque sistemático às instituições tradicionais e sua redefinição do papel das corporações na sociedade plantaram sementes que agora florescem, quer queira quer não, na linguagem, nas práticas e nas estratégias de governança de grandes empresas norte-americanas.
A “responsabilidade social corporativa”, já consagrada como virtude do capitalismo consciente, começou a ser substituída por uma lógica de eficiência política, de lealdade doméstica e de um realismo operacional ancorado em interesses estratégicos nacionais.
I. Um novo Zeitgeist corporativo: da performance ética ao pragmatismo geopolítico
Eu diria que foi a partir de 2017 que se intensificou uma guinada na retórica corporativa norte-americana. A Business Roundtable, que em 2019 havia declarado um compromisso com stakeholders — trabalhadores, clientes, comunidades e acionistas — foi silenciosamente recuando dessa postura. Em seu lugar, ergueu-se uma filosofia de resiliência estratégica e soberania empresarial.
Diante das crescentes tensões com a China, da desconfiança em relação às cadeias de suprimentos globais (já agravada pela crise do covid-19) e da pressão por “relocalização” industrial, o discurso de governança passou a orbitar em torno da segurança, do nacionalismo econômico e do combate ao “woke capitalism”, que se refere ao fenômeno em que corporações apoiam publicamente causas sociais progressistas para parecerem socialmente conscientes, enquanto mantêm, em última instância, um comportamento orientado ao lucro e evitam mudanças substanciais .
Neste novo contexto, os CEOs norte-americanos deixaram de ser apenas gestores de valor econômico, tornando-se, implicitamente, agentes de um novo pacto nacional — não formalizado, mas eficazmente operante.
II. O reflexo tropical: a absorção crítica pela governança brasileira
A América Latina, como sempre observadora ansiosa dos ventos do Norte, não permanece incólume. No Brasil, a meu ver, essa nova lógica de governança começa a transbordar os manuais jurídicos e a penetrar, com diferentes intensidades e velocidades, os conselhos de administração, os comitês de integridade e os modelos de ESG.
Mas aqui, como diria Lévi-Strauss, tudo é reconfigurado pelo bricolage cultural, expressão que aqui traduz a maneira como ideias estrangeiras são adaptadas — ou distorcidas — em meio a tradições locais. A governança corporativa brasileira, historicamente marcada por um hibridismo entre o normativo (inspirado em modelos como o do Sarbanes-Oxley Act) e o patrimonialismo estrutural das elites econômicas locais, passa a experimentar novas tensões.
Entretanto, a incorporação acrítica dessas práticas pode conduzir a um esvaziamento daquilo que se tenta promover como maturidade institucional da governança brasileira. A substituição da ética pela estratégia, do compromisso social pelo risco político, da diversidade pela neutralidade programática, produz no Brasil não um fortalecimento da governança, mas sua caricatura – afinal, nossa desigualdade já é estrutural e evidente.
III. A governança como espaço de tensão entre racionalidade e imaginação
A questão central, portanto, é saber se a governança brasileira conseguirá resistir à tentação de copiar os formatos sem traduzir os significados. A governança não é um fim em si mesma. É uma linguagem, uma forma de traduzir o que “pensa e como age” uma pessoa jurídica. E como toda linguagem, pode ser colonizada.
O risco que se impõe é que, ao emular o novo ethos norte-americano — hiperindividualista, impositivo, protecionista e, no uso de vocábulo mais forte, cínico — as empresas brasileiras abandonem a construção de uma governança mais orgânica, sensível às desigualdades locais e à precariedade de instituições republicanas.
Neste ponto, é possível vislumbrar um alerta. O estilo da nova governança que emerge do pós-Trump é o da força. Mas o Brasil não precisa de mais força — precisa de mais imaginação institucional, de mais precisão (quiçá, redução) regulatória, de mais engenho jurídico e de partícipes da governança corporativa mais efetivos e conscientes.
IV. Conclusão: entre o contágio e a autonomia
A governança corporativa brasileira vive, neste momento, entre dois espelhos: um que reflete o viés, digamos, “instrumental” de um novo capitalismo político vindo dos EUA, e outro que revela suas próprias lacunas democráticas e estruturais. Entre esses dois polos, há uma escolha a ser feita — não técnica, mas cultural e brasileira.
Importar modelos de governança não é apenas um ato de racionalidade institucional; é um gesto político. O Brasil, como democracia em busca de profundidade e permanência, não pode se permitir o luxo de copiar a superficialidade. A governança precisa ser um instrumento de transformação social, não de perpetuação de assimetrias e injustiças sociais profundas.
O que está em jogo, afinal, não é apenas como se administram empresas, mas que tipo de país estamos autorizando — por ação ou omissão — a emergir do seio de nossas práticas corporativas. E, se é verdade que toda forma de governança é também uma forma de linguagem, talvez devêssemos reaprender a falar — com mais precisão, mais sensibilidade e, sobretudo, mais consciência de que o futuro não será importado: será escrito aqui.
Francisco Petros
é economista e advogado. Conselheiro de Administração e de membro de outros órgãos de governança corporativa. Foi Presidente da APIMEC-SP e da Comissão de Supervisão dos Analistas do Mercado de Capitais. É conselheiro do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo e membro da Comissão de Mercado de Capitais da OAB – Nacional.
francisco.petros@fflaw.com.br
Continua...


 Nº 290 • ABR 25
Nº 290 • ABR 25 Nº 289 • MAR 25
Nº 289 • MAR 25 Nº 288 • FEV 25
Nº 288 • FEV 25 Nº 287 • DEZ 24
Nº 287 • DEZ 24