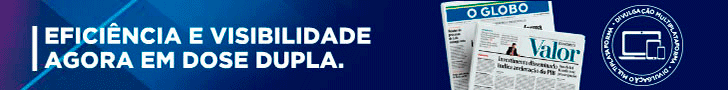Acesso direto aos capítulos
Riscos Climáticos
AS DUAS FACES DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: RISCOS OU OPORTUNIDADES? por Antonio Emilio Freire e Rochana Grossi Freire
Em um país marcado pela rica biodiversidade e pela forte dependência de setores sensíveis às variações do clima, o desafio de integrar práticas ambientais, sociais e de governança ganha contornos especialmente urgentes. Ao longo dos últimos anos, a intensificação de secas, inundações, tempestades e queimadas expôs a vulnerabilidade não apenas das regiões mais isoladas, mas também dos grandes centros urbanos e das cadeias produtivas que sustentam a economia nacional.
Em paralelo, cresce a preocupação global com as emissões de carbono, o desmatamento e a degradação dos ecossistemas tropicais, especialmente na Amazônia, que desempenha um papel decisivo no armazenamento de carbono e na regulação do regime de chuvas em toda a América do Sul.
Essa realidade mostra que o Brasil não está isolado do contexto internacional, já que investidores e parceiros comerciais exigem práticas mais responsáveis e transparentes ao longo das cadeias de valor.
Assim, enquanto a sociedade se depara com os efeitos tangíveis das mudanças climáticas, o mundo empresarial e o setor financeiro percebem a importância de avaliar e gerenciar riscos ambientais, sociais e de governança de modo integrado, a fim de transformar potenciais ameaças em oportunidades concretas de fortalecimento econômico e inovação.
Para compreender a dimensão de tais riscos, torna-se indispensável analisar os impactos físicos decorrentes do aquecimento global no território brasileiro.
Alterações drásticas no regime de chuvas, a exemplo de secas prolongadas em áreas historicamente úmidas ou chuvas torrenciais em períodos atípicos, afetam não apenas a capacidade de produzir alimentos, mas também a estabilidade de barragens, a segurança de estradas e a geração de energia, sobretudo a hidrelétrica.
A perda de cobertura vegetal na Amazônia e em outros biomas importantes reduz a umidade disponível na atmosfera, alterando os ciclos de chuva e ampliando a propensão a incêndios de grande escala.
Essa combinação de variáveis físicas agrava a exposição de setores críticos, como a agricultura, que é responsável por parcela significativa das exportações nacionais e do próprio Produto Interno Bruto, mas também se verifica na mineração, na geração de energia e na produção de bens de consumo.
O agronegócio brasileiro, por exemplo, apesar de sua reconhecida competitividade, enfrenta cada vez mais incertezas quando se depara com a escassez de água e a proliferação de pragas que prosperam em um ambiente de desequilíbrio ecológico.
Falhas na produção agrícola repercutem ao longo de toda a cadeia de suprimentos, geram instabilidades nos preços e podem, em situações extremas, comprometer a segurança alimentar.
Já o setor energético, apoiado em grande parte na capacidade dos reservatórios hídricos, sofre diretamente quando a precipitação diminui e o volume de água estocado chega a níveis críticos.
Isso obriga o recurso a fontes termelétricas mais onerosas e poluentes, elevando o custo da energia e pressionando a adoção de soluções renováveis, como a solar e a eólica, que, por sua vez, demandam investimentos adicionais em tecnologia e infraestrutura.
Também a mineração experimenta dificuldades, pois eventos climáticos intensos geram interrupções logísticas e elevam o risco de acidentes ambientais, particularmente no que diz respeito à gestão de rejeitos.
Cada incidente grave tende a despertar maior escrutínio de autoridades e da sociedade, com repercussões negativas na reputação das empresas e na própria viabilidade operacional.
É nesse contexto que se inserem as pressões por políticas de transição para uma economia de baixo carbono.
A redução das emissões de gases de efeito estufa implica mudanças estruturais em modelos de negócio, sobretudo em indústrias de alta intensidade de carbono.
Reguladores passaram a considerar taxas específicas para emissões, controles mais rígidos de desmatamento e incentivos para tecnologias limpas, ao mesmo tempo que consumidores e investidores demonstram preferência por marcas e organizações associadas a práticas de sustentabilidade.
Assim, riscos de transição deixam de ser conceitos abstratos e se tornam fatores concretos na definição de competitividade.
Uma empresa que ignora a deterioração ambiental em regiões onde extrai matéria-prima, por exemplo, pode ter seu custo de capital aumentado ou ver suas ações excluídas de determinados fundos de investimento orientados por critérios ESG.
Além disso, uma mudança brusca na política internacional de combate ao desmatamento, caso imponha embargos a produtos de origem suspeita, pode ocasionar perdas imediatas de mercados externos, abalando cadeias de exportação consolidadas.
Nesse cenário, a análise das implicações econômicas e financeiras dos riscos associados ao clima ganha relevância prática.
Companhias de diversos setores percebem que integrar requisitos ambientais e sociais não se trata apenas de uma estratégia de marketing, mas de uma dimensão essencial de sua própria resiliência de longo prazo.
No agronegócio, cresce a adoção de agricultura de precisão, que se vale de soluções tecnológicas para mapear áreas de plantio, economizar insumos e aproveitar melhor a água disponível.
Alguns produtores apostam em rotação de culturas e em técnicas regenerativas, com o intuito de manter a saúde do solo, capturar carbono e minimizar o impacto de pragas, garantindo produtividade mesmo sob condições climáticas adversas.
Na geração de energia, algumas empresas investem em parques solares e eólicos, atraindo financiamentos por meio de títulos verdes e aproveitando a queda nos custos de equipamentos, resultado do avanço tecnológico global.
Na mineração, há iniciativas voltadas à redução da dependência de barragens de rejeito, com adoção de tecnologias de empilhamento a seco, aliadas a medidas de monitoramento mais sofisticadas, o que diminui o risco de acidentes catastróficos.
No setor de bens de consumo, por fim, companhias redesenham suas cadeias de suprimentos em busca de transparência, rastreabilidade e menor emissão de carbono, principalmente para atender exigências de varejistas e consumidores em mercados mais exigentes.
Ao mesmo tempo, o setor financeiro brasileiro, seja por pressão de padrões internacionais ou pelo reconhecimento crescente da gravidade dos riscos climáticos, passou a incorporar critérios ESG na concessão de crédito, na alocação de investimentos e na estruturação de seguros.
A possibilidade de inadimplência aumentada em setores intensivos em emissões ou expostos a eventos climáticos extremos eleva o risco de crédito, induzindo bancos a buscar mais garantias ou a impor prêmios de risco maiores.
Alguns fundos de investimento, seguindo regras próprias de governança, deixaram de adquirir títulos de empresas com histórico de desmatamento ou escândalos ambientais, o que afeta diretamente a liquidez e o valor de mercado dessas corporações.
Seguradoras passam a rever contratos em regiões propensas a enchentes e deslizamentos de terra, encarecendo os prêmios e, em alguns casos, retirando-se dessas áreas.
Entretanto, essa percepção de risco é compensada pela expansão das chamadas finanças verdes, por meio das quais se disponibilizam recursos financeiros para projetos que reduzam emissões, protejam a biodiversidade ou promovam a agricultura sustentável.
Bancos e gestores de ativos que adotam esse tipo de produto desfrutam de reputação ampliada, pois se alinham às prioridades de muitos investidores institucionais atentos às melhores práticas socioambientais.
Para lidar de maneira sistemática com todas essas variáveis, empresas de diferentes ramos passaram a investir em metodologias de identificação e quantificação de riscos climáticos.
A utilização de ferramentas avançadas de análise de dados, associadas a modelagem climática e monitoramento por satélite, possibilita antecipar cenários de secas, prever impactos em culturas agrícolas e identificar vulnerabilidades na logística de transporte.
A realização de testes de estresse, adotando recomendações como as da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ou do IFRS S2, ajuda a projetar resultados em múltiplos horizontes de tempo e condições de mercado.
Esses estudos indicam, por exemplo, até que ponto a elevação do preço do carbono ou a imposição de barreiras comerciais poderia prejudicar a competitividade de determinadas empresas.
Dessa forma, a adoção de análises de cenário deixa de ser um exercício acadêmico e se transforma em instrumento de gestão, orientando planos de investimento e estratégias de diversificação.
No que diz respeito à governança, cresce a ideia de que os riscos climáticos e as questões ESG devem ser contemplados pelos conselhos de administração de forma tão relevante quanto temas de orçamento ou estratégia comercial.
Companhias com boa governança começam a incluir metas de redução de emissões e conservação de recursos naturais nos critérios de avaliação de desempenho de executivos e gestores, tornando o compromisso com a sustentabilidade parte integrante do planejamento estratégico.
A cooperação com fornecedores aparece como medida fundamental para garantir que a origem dos insumos não esteja atrelada a práticas de desmatamento ou violações de direitos humanos.
Conforme cresce a demanda dos consumidores por produtos comprovadamente sustentáveis, a capacidade de rastrear cadeias produtivas consolida-se como vantagem competitiva.
Dessa forma, a transparência e a divulgação de indicadores de desempenho ambiental e social estimulam a confiança de clientes, colaboradores e investidores, consolidando o valor de marca.
A urgência da implementação de ações concretas fica mais nítida quando se considera que o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) projeta consequências irreversíveis se a elevação da temperatura global superar 1,5°C.
Na Amazônia, por exemplo, há temores de que o processo de “savanização” possa acarretar mudanças profundas na biodiversidade, na regulação do ciclo hidrológico e na capacidade de captura de carbono, desencadeando ondas de calor mais intensas e reduzindo a capacidade de suporte para a agricultura.
As regiões litorâneas podem enfrentar, nesse horizonte, o aumento do nível do mar e a intensificação de tempestades, com risco para infraestruturas de transporte e para a própria habitabilidade de áreas urbanas.
A conjunção desses fatores tende a amplificar tensões sociais, pois comunidades de baixa renda são mais expostas a enchentes, a doenças transmitidas por vetores e a flutuações de preço dos alimentos.
Dessa forma, a adoção de políticas de mitigação e adaptação deixa de ser um fator opcional, convertendo-se em imperativo de sobrevivência para muitas localidades e setores produtivos.
Apesar de alguns argumentos que atribuem ao Brasil prioridades econômicas e sociais mais imediatas, destaca-se que a resiliência de longo prazo passa justamente pela capacidade de equilibrar desenvolvimento e preservação ambiental.
Países e empresas inseridas em cadeias globais percebem que, ao não adotar padrões ESG robustos, correm o risco de ficar à margem de movimentos internacionais que cada vez mais penalizam práticas insustentáveis.
Há uma dinâmica de mercado em que as exigências de importadores e consumidores funcionam como força motriz para a consolidação de um novo tipo de economia.
Ao mesmo tempo, dados de instituições financeiras sugerem que projetos ambientalmente responsáveis encontram condições de crédito mais favoráveis, além de se beneficiarem de apoios governamentais em programas de transição energética e agricultura de baixo carbono.
Os benefícios de uma abordagem proativa de riscos ESG aparecem tanto no campo da competitividade quanto no reforço da reputação corporativa.
Empresas capazes de se antecipar às crises climáticas, ajustar processos e implementar tecnologias de resiliência tendem a sofrer menos choques diante de períodos de estiagem ou intempéries extremas.
Além disso, essa postura atrai investidores que buscam retornos de longo prazo e que consideram cada vez mais a sustentabilidade como sinal de consistência e perenidade do negócio.
A imagem da organização se fortalece quando há provas concretas de preocupação com o meio ambiente e com o bem-estar da sociedade, algo que reverbera positivamente na relação com consumidores, parceiros e com a comunidade em geral.
Se bem-executadas, essas ações resultam também em processos internos mais eficientes, reduções de custo e estímulo à inovação, pois a busca por soluções de baixo carbono e menor uso de recursos naturais requer criatividade e um mindset de melhoria contínua.
Para consolidar essas transformações, recomenda-se que as empresas incorporem definitivamente indicadores e metas climáticas ao planejamento estratégico, revisando periodicamente o grau de exposição a fatores como volatilidade hídrica, desmatamento ou políticas de combate às emissões.
É essencial manter o diálogo constante com órgãos governamentais e com a sociedade civil, contribuindo para a construção de regulamentações mais claras e para o desenvolvimento de políticas setoriais que favoreçam a adoção de novas tecnologias.
Em paralelo, bancos e fundos de investimento devem sofisticar suas análises de risco, incluindo testes de estresse que mensurem os efeitos de eventual colapso em ecossistemas ou de restrições ao comércio internacional de commodities ligadas ao desmatamento.
Ao estimular a emissão de títulos verdes, a concessão de linhas de crédito a juros reduzidos para iniciativas limpas e a criação de plataformas de comércio de carbono, o setor financeiro torna-se agente propulsor da sustentabilidade, redirecionando capitais para onde a sociedade mais precisa de soluções sustentáveis.
No que se refere aos formuladores de políticas públicas, a fiscalização de áreas sensíveis, o fortalecimento de leis de conservação e a aplicação de incentivos fiscais podem alavancar o cumprimento de metas globais de redução de emissões e de proteção à biodiversidade.
A colaboração público-privada aparece como alternativa para superar gargalos tecnológicos, uma vez que pesquisas de ponta em agricultura regenerativa, energia limpa e monitoramento via satélite demandam recursos, conhecimento especializado e sinergia entre universidades, empresas e governos.
Sob esse prisma, o Brasil, com sua vasta extensão territorial, sua diversidade de biomas e sua relevância no comércio global de alimentos e minérios, possui o potencial de se tornar um líder em soluções inovadoras que combinem geração de valor econômico e preservação ambiental.
Contudo, esse papel de liderança só se concretiza se houver consciência dos riscos climáticos e disposição em investir na transformação de políticas, processos e culturas organizacionais.
A conclusão que se delineia é a de que os riscos climáticos, embora representem ameaças concretas à estabilidade econômica e social, também se apresentam como impulsores de desenvolvimento tecnológico, de repensar estratégias de governança e de atrair investimentos qualificados.
As empresas que melhor se posicionam nesse cenário são justamente aquelas que abraçam a sustentabilidade como vetor estratégico, adotando métodos de gestão integrada e promovendo maior transparência na comunicação de seus resultados ambientais e sociais.
Isso requer, sem dúvida, investimentos iniciais e possíveis mudanças na forma de operar.
Contudo, a adaptação às exigências de mercado e às transformações do clima torna-se passo inevitável para evitar prejuízos maiores e para capturar as oportunidades que surgem em um mundo cada vez mais consciente de sua dependência da natureza.
Assim, o Brasil, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios profundos, dispõe de recursos naturais e humanos para projetar e implementar soluções capazes de inspirar outras nações.
A combinação de sensoriamento remoto, monitoramento inteligente, agricultura sustentável, energias renováveis e governança sólida pode evidenciar um modelo de crescimento compatível com a ambição de neutralizar emissões de carbono e conservar a biodiversidade.
Nesse contexto, as instituições financeiras, os empresários, os governos e a sociedade civil atuam como partes interdependentes de um esforço maior de desenvolvimento inclusivo e responsável.
Ao transcender as preocupações imediatas e reconhecer que a construção de uma economia resiliente depende de decisões tomadas agora, é possível vislumbrar um futuro em que a prosperidade, a proteção dos ecossistemas e o bem-estar social coexistam de forma equilibrada.
Dessa maneira, a gestão dos riscos climáticos e a adesão aos princípios ESG não se restringem a um cumprimento formal de normas, mas constituem a chave para a competitividade, a estabilidade e a relevância do Brasil em um cenário global marcado pela necessidade urgente de cooperação e inovação.
Antonio Emilio Freire
é Auditor, Professor e Membro de Conselhos.
emilioabf@yahoo.com
Rochana Grossi Freire
é Research Manager na Ambipar ESG; professora na Trevisan Escola de Negócios e Membro do Conselho Fiscal da Eletrobrás.
rochanagrossifreire@gmail.com
Continua...


 Nº 293 • AGO 25
Nº 293 • AGO 25 Nº 292 • JUN 25
Nº 292 • JUN 25 Nº 291 • MAI 25
Nº 291 • MAI 25 Nº 290 • ABR 25
Nº 290 • ABR 25