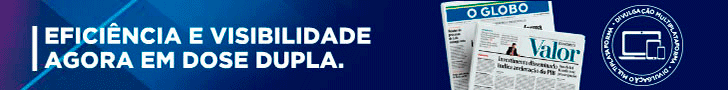Acesso direto aos capítulos
| Branding | Comunicação | Diversidade | Educação Financeira |
| Em Pauta | Espaço Apimec Brasil | Geopolítica | Gestão |
| IBGC Comunica | IBRI Notícias | Opinião | Orquestra Societária |
| Ponto de Vista | Registro |
Educação Financeira
TESTAMENTO VITAL: UM GESTO DE CUIDADO COM QUEM FICA por Jurandir Sell Macedo
Falar sobre o fim da vida é desconfortável. Em uma cultura que celebra a juventude e evita a ideia da morte, é natural que o assunto cause resistência. Porém, nada é mais certo em nossa existência do que a morte. O fato de um ser vivo ter um ciclo, nascer, crescer, envelhecer e, por fim, deixar de funcionar, é parte do que distingue a vida de uma pedra.
A médica geriatra Ana Claudia Quintana Arantes, referência internacional em cuidados paliativos e na abordagem humanizada da morte, escreveu o excelente livro A morte é um dia que vale a pena viver. Nele, convida a encarar a finitude como oportunidade de ressignificar a vida, mostrando que falar de morte é, na verdade, uma maneira profunda de aprender a viver melhor.
Muitas pessoas creem que o dia da morte é regulado por um ser superior e, portanto, acontecerá quando tiver de acontecer. Às vezes, a morte simplesmente se impõe, seja por acidente, seja por uma parada súbita e natural. Porém, nem sempre é assim.
A medicina moderna, com seus avanços extraordinários, trouxe um novo tipo de desafio: a possibilidade de prolongar a existência por meio de recursos tecnológicos que nem sempre significam qualidade de vida. Respiradores artificiais, alimentação por sondas, terapias intensivas prolongadas e intervenções de alto risco muitas vezes mantêm o corpo vivo, mas não garantem consciência, bem-estar ou dignidade. Esse cenário abre a possibilidade de que cada pessoa reflita, com serenidade e antecedência, sobre como deseja ser cuidada quando não puder mais decidir por si.
Vivi esse dilema com minha avó materna. Sempre fomos muito apegados e, junto com uma tia, tivemos de tomar uma decisão difícil e conflituosa. Minha avó viveu bem e com saúde até os 93 anos, mas sofreu um AVC e ficou dez dias hospitalizada. Em certa noite, a médica nos perguntou se gostaríamos que ela fosse intubada. Minha tia, por convicções religiosas, acreditava que essa era a melhor decisão. Eu me opus, convicto de que isso apenas prolongaria um sofrimento inútil. Minha opinião prevaleceu e, no dia seguinte, minha querida avó partiu. Não foi uma decisão fácil e, por algum tempo, gerou atrito familiar, felizmente superado com o tempo.
Logo após a pandemia arrefecer e podermos voltar a circular livremente, fui a um cartório de títulos e documentos e registrei meu testamento vital. Ao chegar em casa, mostrei o documento à Celina, minha companheira de vida. Ao ler, ela chorou copiosamente e me perguntou se eu estava com alguma doença terminal. Afirmei que não, que estava em perfeita saúde, mas levou alguns meses até que a desconfiança passasse.
O testamento vital, também chamado de diretivas antecipadas de vontade ou diretivas antecipadas de saúde, é o documento em que uma pessoa, em plena capacidade, registra como deseja ser tratada caso, no futuro, não possa mais expressar sua vontade por motivo de doença grave ou incapacitante. Se um dia eu estiver na situação de minha avó, não precisarei transferir esse peso para a Celina ou para meus filhos.
Diferentemente do testamento patrimonial, ele não trata de bens materiais, e sim do que é mais íntimo: o próprio corpo e a maneira de viver os momentos finais. Por meio dele, é possível registrar se deseja ou não determinados tratamentos de suporte à vida, como ventilação mecânica, reanimação cardiopulmonar ou nutrição artificial. Também se pode manifestar o desejo de receber apenas cuidados paliativos que garantam conforto, mesmo que isso possa abreviar o processo natural da morte. O documento ainda pode incluir desejos pós-morte, como cremação, local de sepultamento e doação de órgãos.
Infelizmente, o testamento vital ainda não pode tratar de eutanásia ou de suicídio assistido, práticas que continuam tipificadas como crime no Brasil. Acredito, no entanto, que regulamentá-las com critérios, protocolos e salvaguardas éticas daria segurança a pacientes, famílias e profissionais, permitindo que a escolha por uma morte digna seja tratada como decisão de saúde pública e não como tabu criminal ou como dogma religioso.
Ainda que a morte assistida seja ilegal no país, o testamento vital é um direito reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012, que orienta os profissionais a respeitar as diretivas antecipadas regularmente registradas. Não há exigência legal de cartório, mas formalizar o documento em tabelionato e compartilhá-lo com familiares e, se possível, com seus médicos ajuda a evitar dúvidas e conflitos.
É importante lembrar que o testamento vital pode ser alterado ou revogado a qualquer momento enquanto a pessoa estiver lúcida. Trata-se de um instrumento vivo, que acompanha mudanças de valores, crenças e condições de saúde ao longo do tempo.
Refletir sobre o tema antes de uma crise não é apenas prático; é profundamente humano. Em situações de doença grave, os familiares costumam se ver diante de decisões angustiantes, como insistir em tratamentos invasivos ou permitir uma partida mais tranquila. O testamento vital retira esse peso dos ombros de quem se ama e garante que o cuidado recebido esteja alinhado a convicções pessoais, religiosas, filosóficas ou ligadas à própria ideia de dignidade.
Alguns veem o testamento vital como gesto pessimista, quase um convite antecipado à morte. O olhar pode e deve ser o oposto: trata-se de um ato de autonomia e de amor. Autonomia, porque reafirma que a vida pertence a quem a vive e não a um protocolo hospitalar. Amor, porque poupa a família do fardo de decidir em meio à dor. Redigir o documento não significa desistir de viver nem recusar tratamentos com propósito; significa escolher viver e, quando chegar a hora, morrer de acordo com os próprios valores.
Em essência, o testamento vital é uma declaração de liberdade. É a possibilidade de dizer, de maneira clara e antecipada: “Quero que minha vida seja respeitada até o fim, inclusive na hora de partir”. Em um mundo em que a tecnologia pode prolongar por muito tempo a biologia, mas não necessariamente o sentido, esse gesto de consciência talvez seja um dos atos mais profundos de humanidade.
Quando decidi fazer meu testamento vital eu estava, como agora, em plena saúde física e mental. Não o fiz porque acreditasse que uma doença incapacitante ou, o que mais me amedronta, o Alzheimer, fosse uma possibilidade iminente. Fiz por amor a Celina, Júlia e Gustavo, para que, se um dia precisarem tomar decisões difíceis sobre minha vida, tenham total clareza da minha vontade e das minhas convicções.
Por isso, se este artigo o convenceu a fazer seu próprio testamento vital, sugiro convidar as pessoas por ele afetadas a lerem este texto antes de comunicar a decisão. Assim, talvez seja possível diminuir mal-entendidos e apreensões, pelas quais fiz Celina passar quando lhe apresentei o meu testamento vital.
Jurandir Sell Macedo, CFP
é doutor em Finanças Comportamentais, com pós-doutorado em Psicologia Cognitiva pela Université Libre de Bruxelles (ULB) e diretor da Alento Educação Financeira.
jurasell@gmail.com
Continua...


 Nº 298 • FEV 26
Nº 298 • FEV 26 Nº 297 • DEZ 25
Nº 297 • DEZ 25 Nº 296 • NOV 25
Nº 296 • NOV 25 Nº 294 • SET 25
Nº 294 • SET 25