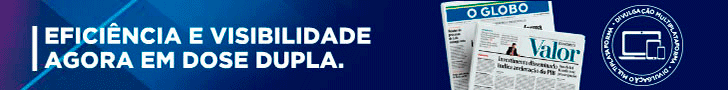Acesso direto aos capítulos
| Branding | Comunicação | Diversidade | Educação Financeira |
| Em Pauta | Espaço Apimec Brasil | Geopolítica | Gestão |
| IBGC Comunica | IBRI Notícias | Opinião | Orquestra Societária |
| Ponto de Vista | Registro |
Geopolítica
RISCOS, ESTRATÉGIA & VALOR: O PODER DO PLANEJAMENTO DE VERDADE por Rochana Grossi Freire e Antonio Emilio Freire
As tarifas voltaram a pautar as reuniões de Conselhos, mas a diferença em relação a décadas anteriores é brutal: elas já não são instrumentos ocasionais de política comercial, aplicadas em momentos de crise ou disputa setorial. Tornaram-se regra, elementos permanentes do tabuleiro de poder global.
Os Estados Unidos, mais uma vez, sobretaxaram o aço. A União Europeia ergueu o CBAM, um mecanismo de ajuste de carbono que funciona como tarifa climática para aço, alumínio, cimento e fertilizantes. A China restringiu exportações de minerais críticos como gálio e germânio, vitais para semicondutores. A Índia, em paralelo, aumentou tarifas sobre eletrônicos, buscando proteger sua nascente indústria doméstica.
O que antes era comércio, hoje é geopolítica corporativa nua e crua. Esse novo ciclo não se limita a negociações em Washington, Bruxelas, Pequim ou Brasília.
Ele já reconfigura os fluxos de capital e afeta diretamente a vida das empresas brasileiras. Commodities que são pilares da economia nacional, como soja, carne, minério de ferro e aço, ora encontram ganhos inesperados quando tensões abrem brechas em mercados fechados, ora sofrem perdas quando exigências ambientais impõem barreiras invisíveis. O chamado “protecionismo verde” deixou de ser teoria acadêmica: já se traduz em bloqueios de contratos, spreads maiores de financiamento e múltiplos de valuation pressionados.
No coração dessa transformação está a percepção de que tarifas, padrões ambientais e disclosure corporativo não são elementos externos, mas drivers de fluxo de caixa e custo de capital.
Ignorá-los é perder de vista que o mundo financeiro deixou de separar política de negócios. O valuation de uma companhia brasileira hoje já carrega, embutido em sua precificação, o risco de sanções ambientais, a fragilidade de cadeias logísticas e a solidez — ou ausência — do disclosure alinhado às normas IFRS S1 e S2.
Nesse cenário o Brasil ocupa um lugar singular. É potência em alimentos, energia e minerais. Mas essa posição de força vem acompanhada de vulnerabilidades estratégicas que têm impacto direto no balanço.
O primeiro ponto sensível é o Atlântico Sul. Do pré-sal aos portos, passando por cabos submarinos que carregam dados e transações, tudo depende de rotas críticas sem redundância adequada. Um bloqueio de apenas quinze dias em corredores logísticos seria suficiente para corroer até 5% do EBITDA de grandes exportadores. Enquanto a Noruega já construiu rotas alternativas e seguros de contingência, o Brasil segue exposto.
A segunda vulnerabilidade é a Amazônia. A floresta tornou-se linha de corte para acesso a mercados premium. A legislação europeia que proíbe importações associadas ao desmatamento já pressiona fornecedores brasileiros. Sem rastreabilidade confiável, empresas pagam até 200 pontos-base a mais em custo de capital, além de enfrentar a ameaça concreta de exclusão de contratos. O que era antes uma questão reputacional transformou-se em um fator financeiro tangível, com impacto em spreads, valuation e múltiplos de mercado.
O ciberespaço completa o quadro. Em 2025, empresas da América Latina já enfrentam, em média, 2.569 ataques cibernéticos por semana, 40% acima da média global. O Brasil concentra sozinho 31% da atividade da dark web na região. Casos de ransomware cresceram 15% em apenas um ano, e um downtime de poucas horas pode custar milhões em perdas diretas, além de danos reputacionais duradouros. Para companhias listadas em bolsa, o impacto vai além das operações: afeta a confiança do investidor e pode reprecificar ativos em questão de dias.
Por fim, há os insumos críticos. Entre janeiro e julho de 2025, o Brasil importou 24,2 milhões de toneladas de fertilizantes, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. A Rússia respondeu por 28,2% dessas importações; a China, por 21,2%. Mais de 80% da demanda nacional ainda depende de fornecedores externos. Esse grau de dependência expõe empresas e o próprio país a choques de oferta e volatilidade de preços que se traduzem em erosão de margens e encarecimento do crédito.
Essas não são abstrações. São riscos de EBITDA, de fluxo de caixa e, em última instância, de valor de mercado. Cada um deles representa um fator que investidores já monitoram e precificam.
O problema é que boa parte da governança corporativa no Brasil ainda trata riscos geopolíticos como variáveis externas, de responsabilidade exclusiva do governo ou de forças de mercado incontroláveis.
Essa miopia não é apenas um erro estratégico: é uma falha de governança que custa caro. Conselhos que se comportam dessa forma não estão apenas sendo negligentes; estão, na prática, violando o próprio dever fiduciário. No Japão e na Coreia do Sul, companhias já tratam cenários de crise como rotina de governança há décadas. Essa prática preserva valor em mercados maduros. No Brasil, ela ainda engatinha.
A alternativa está no planejamento proativo. Empresas resilientes não esperam a crise chegar para agir. Criam playbooks, testam cenários e treinam respostas. A prática já começou a emergir no Brasil. Uma exportadora de celulose simulou bloqueio portuário e conseguiu reduzir em 40% seu risco potencial. Um banco nacional encurtou de horas para minutos o tempo médio de contenção de ataques cibernéticos. No agronegócio, empresas que investiram em rastreabilidade mantiveram contratos europeus e reduziram custo de dívida, enquanto concorrentes ficaram de fora.
Esses exemplos mostram que prevenção não é custo, mas seguro de valor. Na Coreia do Sul, conglomerados são obrigados por lei a conduzir testes integrados de resiliência. Essa institucionalização da preparação é o que garante competitividade em crises.
O Brasil precisa dar esse salto: transformar a resiliência em prática de governança, não em improviso. Cada real investido em preparação vale mais do que qualquer hedge emergencial quando a crise já estourou.
A resiliência, porém, não é suficiente se não vier acompanhada de alianças estratégicas. A vulnerabilidade só se transforma em oportunidade quando convertida em relações sólidas com atores internacionais.
A China, nosso maior cliente, é também o maior laboratório de inteligência artificial industrial do planeta. A Índia surge como mercado em expansão e polo de biotecnologia. A Holanda é porta de entrada para a União Europeia e referência em agroinovação e regulação digital. O Canadá é benchmark em mineração limpa. A Rússia segue vital no fornecimento de fertilizantes. A Suíça, por sua vez, combina capital abundante com chancela de governança, atributos que reduzem spreads de financiamento.
Um caso concreto reforça essa lógica. Em setembro de 2025, o Mercosul assinou tratado de livre comércio com a EFTA, formada por Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. O acordo criou uma zona de comércio de 300 milhões de pessoas e PIB superior a 4,3 trilhões de dólares. Para o Brasil, abriu-se uma porta para mercados de alto poder de compra fora da União Europeia.
Mas o acesso não vem sem custos: prazos de eliminação tarifária de até quinze anos, cotas agrícolas limitadas e exigências ambientais rigorosas. Este tratado, portanto, não é apenas um acordo comercial, mas um teste em tempo real da capacidade brasileira de alinhar sua produção e seu disclosure às exigências do capital global.
O recado é claro: abrir mercados é oportunidade, mas só captura valor quem estiver pronto para cumpri-los.
Essa prontidão passa por uma dimensão frequentemente subestimada no Brasil: o disclosure. Riscos e alianças só se transformam em valor quando traduzidos em transparência que dialogue com investidores.
É aqui que entram as normas IFRS S1 e S2, já mandatórias no país. O investidor global não lê relatórios como burocracia. Ele os lê como filtro. Empresas que entregam disclosure robusto captam capital mais barato. Quem falha, paga spreads maiores, perde contratos e, em muitos casos, fica de fora de mercados estratégicos.
Em 2025, fundos europeus intensificaram a pressão por alinhamento ao CSRD, o novo marco regulatório de sustentabilidade corporativa na União Europeia. Empresas brasileiras que atenderam ao padrão captaram com mais facilidade. Outras viram suas portas se fecharem. O elo com o acordo Mercosul–EFTA é direto: o tratado inclui capítulo de sustentabilidade que exige compromissos em biodiversidade e agricultura sustentável. O Brasil, nesse contexto, não exporta apenas soja ou minério. Exporta também sua capacidade de provar, com disclosure auditável, que cumpre padrões ambientais e sociais.
O disclosure, portanto, deixou de ser relatório. Tornou-se licença para operar. E, mais do que isso, colateral reputacional que afeta spreads, valuation e múltiplos. Em um mundo de taxas de juros altas e competição feroz por capital, essa é a nova fronteira de vantagem competitiva.
Navegar neste cenário exige que a governança brasileira abrace uma dualidade complexa: o país é um protagonista global, mas profundamente vulnerável.
Somos um ator central no fornecimento de alimentos, energia e minerais, mas, ao mesmo tempo, estamos expostos a riscos logísticos, ambientais, digitais e de suprimentos críticos. Conselhos que ainda acreditam que geopolítica é responsabilidade exclusiva do Estado já estão atrasados. A governança moderna exige incorporar riscos, alianças estratégicas e disclosure ao coração da estratégia empresarial.
Mais do que nunca, a hora é de antecipar. O país precisa diversificar suas fontes de financiamento e explorar alternativas de liquidação em moedas locais. O movimento global de desdolarização não é teoria conspiratória: é realidade crescente, e o Brasil pode usá-lo como alavanca para reduzir vulnerabilidade. Para as empresas, isso se traduz em ações concretas: iniciar projetos-piloto de faturamento em renminbi com parceiros chineses estratégicos ou explorar o uso da rúpia em contratos com a Índia, utilizando sistemas de liquidação alternativos. Tais movimentos, ainda que em pequena escala, representam menos exposição a choques externos e podem garantir spreads mais baixos em mercados asiáticos. É uma escolha de preservação de valor.
O futuro da governança brasileira não será definido apenas pela habilidade em exportar commodities, mas pela capacidade de demonstrar resiliência em cadeias críticas, construir alianças que transcendam ciclos políticos e entregar disclosure auditável que reduza spreads e abra mercados. Quem fizer esse movimento ganhará prêmio de valuation. Quem não fizer, pagará o preço da miopia.
Na nova economia global, esperar é perder. Antecipar é governar. E, nesse jogo, quem gerencia riscos faz governança de verdade.
Rochana Grossi Freire
é Head Consulting da RP Management. Conselheira da Eletrobrás e Eternit.
contato@rpmanagementconsulting.net
Antonio Emilio Freire
é Head Assurance da RP Management. Conselheiro do Banco do Brasil, Eletrobrás e Petrobras.
contato@rpmanagementconsulting.net
Continua...


 Nº 298 • FEV 26
Nº 298 • FEV 26 Nº 297 • DEZ 25
Nº 297 • DEZ 25 Nº 296 • NOV 25
Nº 296 • NOV 25 Nº 294 • SET 25
Nº 294 • SET 25